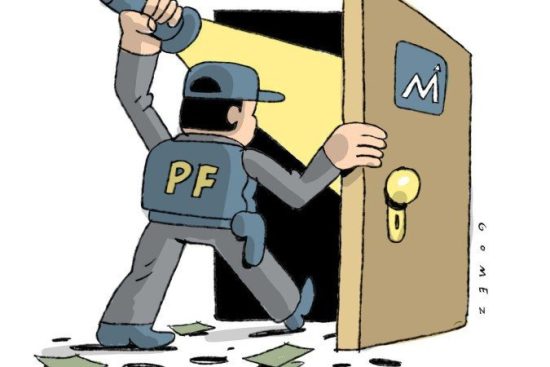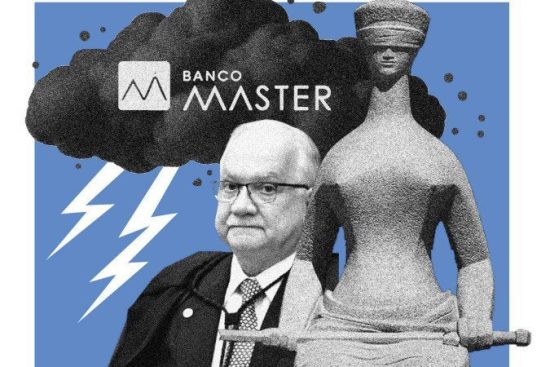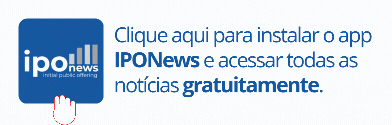Coletânea de reportagens é um tributo aos ícones, à arquitetura e aos personagens anônimos da cidade
Por Edward Pimenta - De Nova York
O veterano jornalista Gay Talese vive há quase 70 anos no mesmo apartamento da rua 61, em Manhattan, onde nos encontramos sob o pretexto de falar sobre seu mais recente trabalho, "A Town Without Time", uma seleção de textos dedicados a um personagem central de sua obra: a cidade de Nova York.
Sentado no sofá Chesterfield da sala de estar, sob o qual repousam o indefectível chapéu e uma bengala, o homem de 93 anos veste um costume de lã e gravata de seda amarela que ajudam a compor o que ele costuma chamar "bella figura", expressão italiana que designa o cavalheiro aprumado de boas maneiras.
A cena remete à época de ouro do "Novo Jornalismo", um tempo em que repórteres como Tom Wolfe, Joan Didion, Truman Capote e o próprio Talese flanavam pela região do Upper East Side, não raro batendo ponto no lendário restaurante Elaine's, ícone cultural da ilha de 1963 a 2011. Para o grupo, elegância era extensão natural do rigor narrativo e da ambição literária que redefiniram a imprensa de seu tempo.
Talese conta histórias de Nova York desde quando chegou, em 1956. Seus personagens são construtores de pontes, intrépidos editores da Vogue e porteiros discretos que viram demais. Seus relatos são ambientados nos salões do apartamento do jornalista George Plimpton (fundador da revista literária The Paris Review), na tensa redação do The New York Times (onde Talese atuou por 9 anos, até 1965) e até num estúdio de gravação com Tony Bennett e Lady Gaga.
As histórias nova-iorquinas de Talese revelam um artesão obcecado pelos detalhes (metodicamente anotados em pequenas fichas de papel e depois arquivados), capaz de decifrar a cadência da cidade e registrar tanto o singular quanto o marginal. Seja ao percorrer as ruas para mapear a hierarquia dos gatos vadios à noite, narrar o gigantesco empreendimento da ponte Verrazzano-Narrows ou expor os bastidores de um edifício em ruínas, o autor investiga a cidade com lupa de repórter e recursos de romancista, produzindo retratos perenes de seus habitantes.
De certa forma, foi neste apartamento em que vive desde sempre com sua mulher (a editora aposentada Nan Talese, que editou gigantes como a autora canadense Margaret Atwood) que o jornalista registrou boa parte da transformação da cidade nas últimas décadas.
Da superação da crise fiscal dos anos 70 - marcada pelo aumento da criminalidade e perda de empregos -, firmando-se como capital global das finanças, à explosão criativa da pop art e do hip hop. Do horror do 11 de Setembro e a consequente mudança na dinâmica de seus habitantes à consolidação como uma das cidades mais diversas do planeta, palco de movimentos de direitos civis, LGBTQIA+ e antirracismo. Nova York ergueu e reinventou ícones - do World Trade Center ao High Line - e transformou bairros inteiros em um colossal processo de gentrificação.
Talese foi um garoto tímido e assombrado pela condição minoritária de filho de imigrantes italianos numa comunidade vitoriana e repressora como a de Ocean City, em Nova Jersey. Formou-se em jornalismo pela Universidade do Alabama antes de iniciar a carreira no jornal de sua cidade natal.
Vista em perspectiva, sua obra é lembrada pelas ricas histórias das pessoas comuns - que sempre lhe pareceram mais interessantes do que as celebridades. São traços distintivos o rigor com que exerceu o ofício do jornalismo, tornando-se mestre do perfil, das grandes reportagens em revistas e em livros, num estilo em que se nota clara influência dos mestres da literatura de ficção.
Seus livros e artigos se distinguem por investigar as vidas privadas e os detalhes desconhecidos dos indivíduos sobre os quais escreve. Fez isso com gângsteres em "Honra teu pai" (1971), libertinos em "A mulher do próximo" (1981), jornalistas em "O reino e o poder" (1969), trabalhadores da construção civil em "A ponte" (1964), imigrantes italianos em "Unto the sons" (1992) e voyeurs em "O voyeur" (2016).
O fracasso (e as derrotas no esporte) também é tema recorrente. Em 1964, sob o título "O perdedor", publicou na revista Esquire a célebre reportagem sobre o boxeador Floyd Patterson, que estava em depressão profunda depois de perder por nocaute, no primeiro assalto, o título de campeão mundial dos pesos pesados para Sonny Liston. Patterson estava isolado, treinando para recomeçar sua escalada no ringue e entender o significado do próprio declínio.
Talese tinha 34 anos quando escreveu um de seus mais célebres perfis, "Frank Sinatra está resfriado", depois de fracassar miseravelmente na missão de entrevistar o cantor e construir um vívido relato exclusivamente a partir das entrevistas que fez com dezenas de fontes ligadas a Sinatra, sobre quem pairava a suspeita de ligações perigosas com a Máfia. O texto saiu em 55 páginas da Esquire de abril de 1966 e se transformou num clássico do Novo Jornalismo, gênero que floresceu em revistas como Harper's e The New Yorker, além da própria Esquire.
A última vez que o havia encontrado pessoalmente para uma entrevista foi há 12 anos, em São Paulo. De lá para cá, uma coisa permanece inalterada: a elegância - não apenas no modo de se vestir, mas sobretudo na forma de observar e narrar o mundo. É nesta chave que se desenrola a conversa a seguir.
Valor: O senhor está muito elegante
Gay Talese: Obrigado. Nasci em uma loja, meu pai era alfaiate, minha mãe vendia vestidos. Foi ali que aprendi algo essencial - apresentar-se bem, ser educado e ter genuíno interesse pelo outro. Repórteres também têm clientes: suas fontes. Por isso, sempre considerei fundamental vestir-me adequadamente, bater à porta com respeito, observar os costumes da casa e escrever com compreensão. Nunca fiz jornalismo para expor ou humilhar, mas para entender pontos de vista diferentes do meu. Perguntar "como é ser o outro?" sempre guiou meu trabalho. E essa escuta atenta, hoje tantas vezes substituída por telas e reuniões virtuais, foi minha verdadeira escola.
Valor: Nas últimas décadas, quais foram as grandes mudanças na cidade?
Talese: De certa forma, a cidade não mudou. Nova York sempre foi uma cidade de conflito entre o novo e o velho, os recém-chegados e os veteranos. Continua sendo uma cidade cosmopolita, e as pessoas são essencialmente boas. Vim morar aqui em 1956, já tinha estado aqui uma vez antes, em 1953, quando trabalhei como office boy no The New York Times; depois tive que ir para o exército por dois anos. Voltei no ano seguinte e me mudei para este mesmo apartamento. A vizinhança não mudou muito. Claro que as pessoas envelhecem, morrem e são substituídas por outras pessoas. Mas esta continua sendo uma cidade internacional. Você entra no metrô e escuta vozes de países estrangeiros, é o idioma de Nova York. Se eu caminhar pela rua com minha bengala e tropeçar na calçada, dez pessoas virão me levantar. As pessoas nas ruas são boas, sejam russas, colombianas, gregas, chinesas, não importa.
Valor: O senhor se considera estrangeiro?
Talese: Sou um americano de origem italiana e tenho um ponto de vista diferente da maioria dos americanos. Sou, em certo sentido, estrangeiro. Meu pai é um imigrante italiano. Ele chegou aos 17 anos, sozinho. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando eu tinha 11 anos, meus tios estavam no exército fascista lutando contra os americanos. Deu-me a sensação de estar do lado errado da guerra, uma perspectiva diferente. Cresci vendo o outro lado, pensando no outro lado.
Nova York terá em breve um novo prefeito. Talvez seja muçulmano (Zohran Mamdani), e isso é maravilhoso. Ele não gosta do que Israel faz, e eu também não. Não sou antissemita. Agora, se eu criticar demais o Netanyahu, posso ser acusado de ser antissemita. Eu poderia perder meu emprego se eu fosse comentarista de TV e dissesse algo contra o exército israelense ou o que está acontecendo em Gaza. Não sou antissemita, mas também não sou a favor de Israel matar de fome essas pessoas. Quando o Netanyahu vem a Nova York, fica num hotel do outro lado da rua. A rua inteira fica bloqueada com cães do FBI, segurança. Não há segurança para a Palestina. Os palestinos têm direito de viver. Sim, Israel tem direito de viver, mas a Palestina também tem. Ninguém os defende, exceto certos grupos de pressão, mas são minoritários, irrelevantes.
Valor: O que acha da política externa americana?
Talese: Odeio nossa política externa. Não gosto do que fizemos na Líbia, não gosto do que estamos fazendo com a Venezuela. Todos esses ditadores que derrubamos e substituímos o tempo todo, não funciona. Não funcionou com o Castro. As pessoas têm o direito de viver sob sua própria escolha de liderança, e não sob ditames de Washington o tempo todo. Este país, seja republicano, democrata, fascista, o que quer que chamem o Trump, ainda se mete nos assuntos dos outros. Eu não gosto de me meter nos assuntos alheios. Não acho que o governo dos Estados Unidos representa o povo.
Valor: Sente falta das pessoas?
Talese: Minha geração está acabando, sou um sobrevivente, aos 93 anos. Mas há pessoas crescendo para ocupar os espaços deixados pelo desaparecimento de gente inesquecível como Norman Mailer, Tom Wolfe, Susan Sontag e Joan Didion. São escritores diferentes, mais interiorizados. Vejo a tecnologia como uma força que afasta as pessoas. Ninguém mais se olha: os olhos estão sempre voltados para baixo, para a tela, e não para os olhos das outras pessoas. Nas ruas e nos restaurantes, percebo homens e mulheres lado a lado, sem conversar, cada um imerso no celular. Como repórter, nunca precisei de um aparelho desses. Quando quero ver uma pessoa, eu simplesmente vou vê-la, não importa onde estiver.
Valor: Sim, no fim dos anos 1990 o senhor voou para a China e lá ficou meses para entrevistar a jogadora Liu Ying, da seleção nacional de futebol. Isso seria viável no jornalismo hoje em dia?
Talese: Sintonizei a TV no jogo final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 1999, em que se enfrentaram China e Estados Unidos. Depois de um empate sem gols, veio a prorrogação e, por fim, a decisão por pênaltis. A chinesa Liu Ying desperdiçou a cobrança e perdeu o campeonato. Naquele momento eu sabia que queria encontrar aquela mulher. Hoje estou velho demais para voar, mas poderia. O problema é que as verbas de despesas não são mais as mesmas.
Para mim, o jornalismo precisa ser preciso e verificavelmente exato. Isso sempre exigiu tempo, convivência e contexto. Nunca me interessou a primeira frase dita em uma entrevista; eu queria a segunda, a terceira, até chegar a uma aspa que de fato traduzisse a verdade. É assim que a forma literária empresta recursos ao jornalismo: ritmo, detalhe, densidade, mas sempre sustentados pela apuração rigorosa. O problema é que isso custa caro. Quando escrevi sobre Sinatra, em 1966, passei seis semanas em campo, com US$ 3 mil de verba de despesas. Hoje, sem esse investimento, torna-se cada vez mais difícil praticar esse jornalismo.
Se você estiver realmente comprometido, pode ir a qualquer lugar. Eu, se realmente quisesse, conseguiria ver Putin, Xi Jinping, Maduro. Perseverança, determinação e boas maneiras abrem portas. Repórteres não têm mais boas maneiras.
Valor: Algumas histórias deste livro se assemelham a contos de ficção
Talese: Foi por isso que comecei a escrever. Quando eu era jovem, os redatores, biógrafos, historiadores e jornalistas não eram bons escritores. Eu lia autores de ficção como Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, García Márquez, Irwin Shaw, William Styron, Norman Mailer e Mary McCarthy, queria escrever como eles.
Valor: Um dos melhores textos da coletânea, juntamente com "Frank Sinatra está resfriado", é o seu relato sobre a construção da ponte Verrazzano
Talese: Sim, os homens da ponte, com seus capacetes, não são conhecidos. Os nomes deles não estão na ponte. Os engenheiros até podem ser lembrados, mas os trabalhadores não. Sempre quis escrever sobre eles. Isso vem da minha infância na loja do meu pai: os clientes não eram famosos, mas tinham histórias, e eu queria contá-las. Quando soube da construção da Verrazzano, fui até lá. Havia despejos em Bay Ridge, milhares de casas destruídas, famílias desfeitas. Passei anos acompanhando os operários, conversando com gente do sindicato, ouvindo suas histórias. Quem eram? De onde vinham? Por que aceitavam esse trabalho tão perigoso? Muitos já tinham caído de pontes, mas seguiam em frente, indo de obra em obra pelo mundo, como um circo. Descobri que, no fim, a ponte é feita desses homens, não só do engenheiro que a assinou.
Valor: O senhor marcou época ao registrar a revolução sexual nos Estados Unidos com "A mulher do próximo", no fim dos anos 1970. Olhando em retrospecto, há algo que não conseguiu captar naquela obra?
Talese: Não sei exatamente o que deixei de fora, mas posso dizer o que me motivou. O livro nasceu da minha infância em Ocean City, numa comunidade católica conservadora, onde padres repetiam que certos livros eram pecaminosos, que não se devia assistir a determinados filmes ou sequer ter "pensamentos impuros". Cresci cercado por proibições. Quando cheguei à vida adulta, nos anos 1960, vi o país se transformar: o movimento dos direitos civis, as marchas de Martin Luther King, o feminismo, o movimento gay, e também uma revolução sexual que desafiava tudo o que nos ensinaram a temer. De repente, obras antes proibidas, como "O amante de Lady Chatterley", eram publicadas legalmente.
Quis registrar essa mudança. E, como sempre fiz, não fiquei de fora: me infiltrei em salões de massagem de Manhattan, conversei com mulheres jovens que ganhavam a vida ali atendendo homens de classe média, observei como aquelas relações revelavam tensões e desejos escondidos. Cheguei a administrar alguns desses lugares, contratando funcionárias que anotavam o que ouviam dos clientes para me ajudar a compreender aquele mundo. Depois fui além, até comunidades como Sandstone, em Topanga Canyon, onde famílias viviam em regime de nudismo e liberdade sexual. Eu, filho de alfaiate e amante de roupas, passei seis meses nu, vivendo com eles, para entender o que significava aquele estilo de vida.
Tratei essas pessoas como sempre tratei minhas personagens: como os operários da ponte ou o cabeleireiro de Sinatra. Eram anônimos, mas revelavam, em seus gestos e escolhas, um retrato fiel do país. Minha esposa, Nan, sofreu com a repercussão. Meus pares me acusaram de obscenidade, cheguei a ser ameaçado de expulsão do PEN Club. Minha reputação despencou. Mas "A mulher do próximo", publicado em 1980, continua sendo um livro fundamental. Não é apenas sobre sexo. É sobre a transformação da moralidade americana, sobre como um país passou da censura rígida dos anos 40 e 50 para uma redefinição do que se entende por liberdade individual. Eu quis ser testemunha e cronista dessa passagem.
A Town Without Time: Gay Talese's New York Gay Talese. Mariner Books/HarperCollins. Sem tradução no Brasil até o fechamento deste texto.
Valor
https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2025/10/03/a-nova-york-de-gay-talese.ghtml
O veterano jornalista Gay Talese vive há quase 70 anos no mesmo apartamento da rua 61, em Manhattan, onde nos encontramos sob o pretexto de falar sobre seu mais recente trabalho, "A Town Without Time", uma seleção de textos dedicados a um personagem central de sua obra: a cidade de Nova York.
Sentado no sofá Chesterfield da sala de estar, sob o qual repousam o indefectível chapéu e uma bengala, o homem de 93 anos veste um costume de lã e gravata de seda amarela que ajudam a compor o que ele costuma chamar "bella figura", expressão italiana que designa o cavalheiro aprumado de boas maneiras.
A cena remete à época de ouro do "Novo Jornalismo", um tempo em que repórteres como Tom Wolfe, Joan Didion, Truman Capote e o próprio Talese flanavam pela região do Upper East Side, não raro batendo ponto no lendário restaurante Elaine's, ícone cultural da ilha de 1963 a 2011. Para o grupo, elegância era extensão natural do rigor narrativo e da ambição literária que redefiniram a imprensa de seu tempo.
Talese conta histórias de Nova York desde quando chegou, em 1956. Seus personagens são construtores de pontes, intrépidos editores da Vogue e porteiros discretos que viram demais. Seus relatos são ambientados nos salões do apartamento do jornalista George Plimpton (fundador da revista literária The Paris Review), na tensa redação do The New York Times (onde Talese atuou por 9 anos, até 1965) e até num estúdio de gravação com Tony Bennett e Lady Gaga.
As histórias nova-iorquinas de Talese revelam um artesão obcecado pelos detalhes (metodicamente anotados em pequenas fichas de papel e depois arquivados), capaz de decifrar a cadência da cidade e registrar tanto o singular quanto o marginal. Seja ao percorrer as ruas para mapear a hierarquia dos gatos vadios à noite, narrar o gigantesco empreendimento da ponte Verrazzano-Narrows ou expor os bastidores de um edifício em ruínas, o autor investiga a cidade com lupa de repórter e recursos de romancista, produzindo retratos perenes de seus habitantes.
De certa forma, foi neste apartamento em que vive desde sempre com sua mulher (a editora aposentada Nan Talese, que editou gigantes como a autora canadense Margaret Atwood) que o jornalista registrou boa parte da transformação da cidade nas últimas décadas.
Da superação da crise fiscal dos anos 70 - marcada pelo aumento da criminalidade e perda de empregos -, firmando-se como capital global das finanças, à explosão criativa da pop art e do hip hop. Do horror do 11 de Setembro e a consequente mudança na dinâmica de seus habitantes à consolidação como uma das cidades mais diversas do planeta, palco de movimentos de direitos civis, LGBTQIA+ e antirracismo. Nova York ergueu e reinventou ícones - do World Trade Center ao High Line - e transformou bairros inteiros em um colossal processo de gentrificação.
Vida e obra
Talese foi um garoto tímido e assombrado pela condição minoritária de filho de imigrantes italianos numa comunidade vitoriana e repressora como a de Ocean City, em Nova Jersey. Formou-se em jornalismo pela Universidade do Alabama antes de iniciar a carreira no jornal de sua cidade natal.
Vista em perspectiva, sua obra é lembrada pelas ricas histórias das pessoas comuns - que sempre lhe pareceram mais interessantes do que as celebridades. São traços distintivos o rigor com que exerceu o ofício do jornalismo, tornando-se mestre do perfil, das grandes reportagens em revistas e em livros, num estilo em que se nota clara influência dos mestres da literatura de ficção.
Seus livros e artigos se distinguem por investigar as vidas privadas e os detalhes desconhecidos dos indivíduos sobre os quais escreve. Fez isso com gângsteres em "Honra teu pai" (1971), libertinos em "A mulher do próximo" (1981), jornalistas em "O reino e o poder" (1969), trabalhadores da construção civil em "A ponte" (1964), imigrantes italianos em "Unto the sons" (1992) e voyeurs em "O voyeur" (2016).
O fracasso (e as derrotas no esporte) também é tema recorrente. Em 1964, sob o título "O perdedor", publicou na revista Esquire a célebre reportagem sobre o boxeador Floyd Patterson, que estava em depressão profunda depois de perder por nocaute, no primeiro assalto, o título de campeão mundial dos pesos pesados para Sonny Liston. Patterson estava isolado, treinando para recomeçar sua escalada no ringue e entender o significado do próprio declínio.
Talese tinha 34 anos quando escreveu um de seus mais célebres perfis, "Frank Sinatra está resfriado", depois de fracassar miseravelmente na missão de entrevistar o cantor e construir um vívido relato exclusivamente a partir das entrevistas que fez com dezenas de fontes ligadas a Sinatra, sobre quem pairava a suspeita de ligações perigosas com a Máfia. O texto saiu em 55 páginas da Esquire de abril de 1966 e se transformou num clássico do Novo Jornalismo, gênero que floresceu em revistas como Harper's e The New Yorker, além da própria Esquire.
A última vez que o havia encontrado pessoalmente para uma entrevista foi há 12 anos, em São Paulo. De lá para cá, uma coisa permanece inalterada: a elegância - não apenas no modo de se vestir, mas sobretudo na forma de observar e narrar o mundo. É nesta chave que se desenrola a conversa a seguir.
Valor: O senhor está muito elegante
Gay Talese: Obrigado. Nasci em uma loja, meu pai era alfaiate, minha mãe vendia vestidos. Foi ali que aprendi algo essencial - apresentar-se bem, ser educado e ter genuíno interesse pelo outro. Repórteres também têm clientes: suas fontes. Por isso, sempre considerei fundamental vestir-me adequadamente, bater à porta com respeito, observar os costumes da casa e escrever com compreensão. Nunca fiz jornalismo para expor ou humilhar, mas para entender pontos de vista diferentes do meu. Perguntar "como é ser o outro?" sempre guiou meu trabalho. E essa escuta atenta, hoje tantas vezes substituída por telas e reuniões virtuais, foi minha verdadeira escola.
Valor: Nas últimas décadas, quais foram as grandes mudanças na cidade?
Talese: De certa forma, a cidade não mudou. Nova York sempre foi uma cidade de conflito entre o novo e o velho, os recém-chegados e os veteranos. Continua sendo uma cidade cosmopolita, e as pessoas são essencialmente boas. Vim morar aqui em 1956, já tinha estado aqui uma vez antes, em 1953, quando trabalhei como office boy no The New York Times; depois tive que ir para o exército por dois anos. Voltei no ano seguinte e me mudei para este mesmo apartamento. A vizinhança não mudou muito. Claro que as pessoas envelhecem, morrem e são substituídas por outras pessoas. Mas esta continua sendo uma cidade internacional. Você entra no metrô e escuta vozes de países estrangeiros, é o idioma de Nova York. Se eu caminhar pela rua com minha bengala e tropeçar na calçada, dez pessoas virão me levantar. As pessoas nas ruas são boas, sejam russas, colombianas, gregas, chinesas, não importa.
Valor: O senhor se considera estrangeiro?
Talese: Sou um americano de origem italiana e tenho um ponto de vista diferente da maioria dos americanos. Sou, em certo sentido, estrangeiro. Meu pai é um imigrante italiano. Ele chegou aos 17 anos, sozinho. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando eu tinha 11 anos, meus tios estavam no exército fascista lutando contra os americanos. Deu-me a sensação de estar do lado errado da guerra, uma perspectiva diferente. Cresci vendo o outro lado, pensando no outro lado.
Nova York terá em breve um novo prefeito. Talvez seja muçulmano (Zohran Mamdani), e isso é maravilhoso. Ele não gosta do que Israel faz, e eu também não. Não sou antissemita. Agora, se eu criticar demais o Netanyahu, posso ser acusado de ser antissemita. Eu poderia perder meu emprego se eu fosse comentarista de TV e dissesse algo contra o exército israelense ou o que está acontecendo em Gaza. Não sou antissemita, mas também não sou a favor de Israel matar de fome essas pessoas. Quando o Netanyahu vem a Nova York, fica num hotel do outro lado da rua. A rua inteira fica bloqueada com cães do FBI, segurança. Não há segurança para a Palestina. Os palestinos têm direito de viver. Sim, Israel tem direito de viver, mas a Palestina também tem. Ninguém os defende, exceto certos grupos de pressão, mas são minoritários, irrelevantes.
Valor: O que acha da política externa americana?
Talese: Odeio nossa política externa. Não gosto do que fizemos na Líbia, não gosto do que estamos fazendo com a Venezuela. Todos esses ditadores que derrubamos e substituímos o tempo todo, não funciona. Não funcionou com o Castro. As pessoas têm o direito de viver sob sua própria escolha de liderança, e não sob ditames de Washington o tempo todo. Este país, seja republicano, democrata, fascista, o que quer que chamem o Trump, ainda se mete nos assuntos dos outros. Eu não gosto de me meter nos assuntos alheios. Não acho que o governo dos Estados Unidos representa o povo.
Valor: Sente falta das pessoas?
Talese: Minha geração está acabando, sou um sobrevivente, aos 93 anos. Mas há pessoas crescendo para ocupar os espaços deixados pelo desaparecimento de gente inesquecível como Norman Mailer, Tom Wolfe, Susan Sontag e Joan Didion. São escritores diferentes, mais interiorizados. Vejo a tecnologia como uma força que afasta as pessoas. Ninguém mais se olha: os olhos estão sempre voltados para baixo, para a tela, e não para os olhos das outras pessoas. Nas ruas e nos restaurantes, percebo homens e mulheres lado a lado, sem conversar, cada um imerso no celular. Como repórter, nunca precisei de um aparelho desses. Quando quero ver uma pessoa, eu simplesmente vou vê-la, não importa onde estiver.
Valor: Sim, no fim dos anos 1990 o senhor voou para a China e lá ficou meses para entrevistar a jogadora Liu Ying, da seleção nacional de futebol. Isso seria viável no jornalismo hoje em dia?
Talese: Sintonizei a TV no jogo final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 1999, em que se enfrentaram China e Estados Unidos. Depois de um empate sem gols, veio a prorrogação e, por fim, a decisão por pênaltis. A chinesa Liu Ying desperdiçou a cobrança e perdeu o campeonato. Naquele momento eu sabia que queria encontrar aquela mulher. Hoje estou velho demais para voar, mas poderia. O problema é que as verbas de despesas não são mais as mesmas.
Para mim, o jornalismo precisa ser preciso e verificavelmente exato. Isso sempre exigiu tempo, convivência e contexto. Nunca me interessou a primeira frase dita em uma entrevista; eu queria a segunda, a terceira, até chegar a uma aspa que de fato traduzisse a verdade. É assim que a forma literária empresta recursos ao jornalismo: ritmo, detalhe, densidade, mas sempre sustentados pela apuração rigorosa. O problema é que isso custa caro. Quando escrevi sobre Sinatra, em 1966, passei seis semanas em campo, com US$ 3 mil de verba de despesas. Hoje, sem esse investimento, torna-se cada vez mais difícil praticar esse jornalismo.
Se você estiver realmente comprometido, pode ir a qualquer lugar. Eu, se realmente quisesse, conseguiria ver Putin, Xi Jinping, Maduro. Perseverança, determinação e boas maneiras abrem portas. Repórteres não têm mais boas maneiras.
Valor: Algumas histórias deste livro se assemelham a contos de ficção
Talese: Foi por isso que comecei a escrever. Quando eu era jovem, os redatores, biógrafos, historiadores e jornalistas não eram bons escritores. Eu lia autores de ficção como Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, García Márquez, Irwin Shaw, William Styron, Norman Mailer e Mary McCarthy, queria escrever como eles.
Valor: Um dos melhores textos da coletânea, juntamente com "Frank Sinatra está resfriado", é o seu relato sobre a construção da ponte Verrazzano
Talese: Sim, os homens da ponte, com seus capacetes, não são conhecidos. Os nomes deles não estão na ponte. Os engenheiros até podem ser lembrados, mas os trabalhadores não. Sempre quis escrever sobre eles. Isso vem da minha infância na loja do meu pai: os clientes não eram famosos, mas tinham histórias, e eu queria contá-las. Quando soube da construção da Verrazzano, fui até lá. Havia despejos em Bay Ridge, milhares de casas destruídas, famílias desfeitas. Passei anos acompanhando os operários, conversando com gente do sindicato, ouvindo suas histórias. Quem eram? De onde vinham? Por que aceitavam esse trabalho tão perigoso? Muitos já tinham caído de pontes, mas seguiam em frente, indo de obra em obra pelo mundo, como um circo. Descobri que, no fim, a ponte é feita desses homens, não só do engenheiro que a assinou.
Valor: O senhor marcou época ao registrar a revolução sexual nos Estados Unidos com "A mulher do próximo", no fim dos anos 1970. Olhando em retrospecto, há algo que não conseguiu captar naquela obra?
Talese: Não sei exatamente o que deixei de fora, mas posso dizer o que me motivou. O livro nasceu da minha infância em Ocean City, numa comunidade católica conservadora, onde padres repetiam que certos livros eram pecaminosos, que não se devia assistir a determinados filmes ou sequer ter "pensamentos impuros". Cresci cercado por proibições. Quando cheguei à vida adulta, nos anos 1960, vi o país se transformar: o movimento dos direitos civis, as marchas de Martin Luther King, o feminismo, o movimento gay, e também uma revolução sexual que desafiava tudo o que nos ensinaram a temer. De repente, obras antes proibidas, como "O amante de Lady Chatterley", eram publicadas legalmente.
Quis registrar essa mudança. E, como sempre fiz, não fiquei de fora: me infiltrei em salões de massagem de Manhattan, conversei com mulheres jovens que ganhavam a vida ali atendendo homens de classe média, observei como aquelas relações revelavam tensões e desejos escondidos. Cheguei a administrar alguns desses lugares, contratando funcionárias que anotavam o que ouviam dos clientes para me ajudar a compreender aquele mundo. Depois fui além, até comunidades como Sandstone, em Topanga Canyon, onde famílias viviam em regime de nudismo e liberdade sexual. Eu, filho de alfaiate e amante de roupas, passei seis meses nu, vivendo com eles, para entender o que significava aquele estilo de vida.
Tratei essas pessoas como sempre tratei minhas personagens: como os operários da ponte ou o cabeleireiro de Sinatra. Eram anônimos, mas revelavam, em seus gestos e escolhas, um retrato fiel do país. Minha esposa, Nan, sofreu com a repercussão. Meus pares me acusaram de obscenidade, cheguei a ser ameaçado de expulsão do PEN Club. Minha reputação despencou. Mas "A mulher do próximo", publicado em 1980, continua sendo um livro fundamental. Não é apenas sobre sexo. É sobre a transformação da moralidade americana, sobre como um país passou da censura rígida dos anos 40 e 50 para uma redefinição do que se entende por liberdade individual. Eu quis ser testemunha e cronista dessa passagem.
A Town Without Time: Gay Talese's New York Gay Talese. Mariner Books/HarperCollins. Sem tradução no Brasil até o fechamento deste texto.
Valor
https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2025/10/03/a-nova-york-de-gay-talese.ghtml